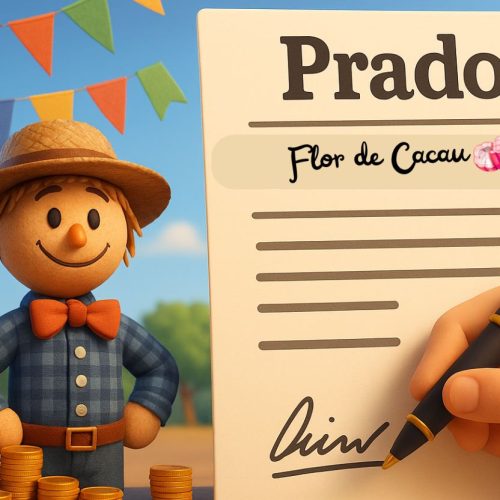No coração do Seridó potiguar, onde o sertão se encontra com o céu aberto e o vento sopra sem barreiras, uma nova paisagem tem se imposto com vigor: fileiras de turbinas eólicas girando incessantemente, dia e noite. Sob a promessa de progresso e energia limpa, comunidades inteiras vivem agora à sombra de hélices gigantes, lidando com um cotidiano de ruído constante, poeira, escassez hídrica agravada e um sentimento crescente de abandono.
A promessa de energia verde que se impôs sobre o sertão
A região do Seridó, que abrange parte do Rio Grande do Norte e da Paraíba, é hoje uma das áreas mais cobiçadas do país para a instalação de parques eólicos e solares. Seu alto índice de radiação solar e a constância dos ventos, especialmente entre julho e dezembro, tornaram o território um “pré-sal” da energia renovável. Segundo dados da ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), o Rio Grande do Norte concentra cerca de 30% da geração eólica nacional, e a tendência é de expansão acelerada.
No entanto, essa transição energética, impulsionada por grandes corporações, nem sempre considera os impactos diretos sobre as comunidades locais. O Brasil, diferentemente de países como Alemanha ou Dinamarca, ainda carece de uma legislação específica que regulamente a distância mínima entre turbinas e moradias. Em muitos casos, essa distância não ultrapassa 100 metros — uma proximidade que, segundo especialistas, representa riscos sérios à saúde e ao bem-estar.
“O barulho não para nem de madrugada”
Maria do Socorro, 62 anos, vive no município de Lagoa Nova (RN), a pouco mais de 100 metros de uma das dezenas de turbinas instaladas pela empresa espanhola Neoenergia. Ela aponta para o céu com os olhos semicerrados e ouvidos atentos ao som grave que parece nunca cessar.
“É um zunido que não sai da cabeça. Já pensei que fosse coisa da idade, mas a vizinha também ouve. Quando venta forte, parece que a casa toda vai tremer.”
De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), turbinas eólicas podem gerar níveis de poluição sonora que chegam a 55 decibéis a 500 metros de distância, o que ultrapassa o limite recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para zonas residenciais noturnas. A exposição prolongada ao ruído pode causar insônia, hipertensão e distúrbios de ansiedade, sobretudo em populações vulneráveis.
Além do som constante, Socorro reclama da poeira que cobre móveis e roupas, resultado do trânsito contínuo de caminhões e máquinas pesadas utilizados para manutenção das torres.
Rachaduras, reservatórios danificados e silêncio das empresas
A rotina de Maria de Fátima, 58 anos, moradora da zona rural de Cerro Corá, foi ainda mais abalada. A instalação de uma torre eólica próxima a sua propriedade causou, segundo ela, rachaduras em seu reservatório de água, principal fonte de abastecimento da família durante os meses de seca.
“Liguei pra empresa, prometeram vir. Passaram três meses. A água vazando. Tive que consertar sozinha, vendendo duas galinhas pra comprar cimento.”
A escassez hídrica no Seridó é histórica, mas o avanço das obras tem agravado o problema, com alteração no fluxo de águas subterrâneas, impermeabilização do solo e danos estruturais em cisternas e caixas d’água. Em um relatório técnico publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pesquisadores alertam que a compactação do solo provocada pelas obras eólicas pode reduzir a infiltração de água em até 40%, dificultando a recarga dos aquíferos.
Falta de planejamento urbano e exclusão social
Durante a fase de construção dos parques, comunidades rurais relatam um período de caos e desorganização. Caminhões atravessando trilhas estreitas, operários externos ocupando alojamentos improvisados, e o crescimento de conflitos por uso de terras antes compartilhadas entre pequenos agricultores e criadores. A ausência de diálogo prévio com os moradores é constante.
“Nos chamaram só pra assinar papel. Quando vimos, já estavam cavando o chão”, conta José Silvério, agricultor de Acari (RN).
A realidade contrasta com modelos adotados em países europeus. Na Dinamarca, por exemplo, existe a “Lei de Proximidade” (Proximity Law), que estabelece no mínimo 4 vezes a altura total da turbina como distância segura de residências — o que, em muitos casos, ultrapassa os 600 metros. Além disso, as comunidades vizinhas aos parques recebem compensações financeiras obrigatórias, algo inexistente no Brasil.
Impactos ecológicos: o microclima sob ameaça
O Seridó é também uma região de transição entre o bioma Caatinga e áreas de cerrado, abrigando espécies vegetais e animais endêmicas. Segundo o biólogo Paulo Batista, da ONG Sertão Verde, a movimentação intensa e a presença dos aerogeradores impactam aves migratórias e alteram padrões de comportamento da fauna local.
Adicionalmente, estudos conduzidos pelo Centro de Pesquisa em Energia e Mudanças Climáticas da UFRN apontam para mudanças no microclima, como variações de temperatura e umidade causadas pela sombra e pelo redemoinho gerado pelas hélices. Em áreas próximas às torres, foram registradas quedas de até 0,5°C na temperatura noturna, o que pode afetar o ciclo de plantio de determinadas culturas adaptadas ao clima semiárido.
Silêncio institucional e um futuro incerto
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ainda não estabeleceu diretrizes nacionais para a instalação dos aerogeradores, delegando aos estados a decisão sobre licenciamento ambiental. Na prática, isso gera um vácuo normativo que favorece o avanço desordenado das empresas e deixa comunidades desprotegidas.
Apesar das denúncias, o número de parques em operação ou construção na região continua a crescer. Em nome da transição energética, comunidades como a de Socorro e Fátima convivem com uma modernidade imposta, sem retorno garantido.
“Falam em energia limpa, mas sujaram a nossa vida”, resume Maria de Fátima, com olhos marejados, enquanto segura uma vasilha de água colhida em seu reservatório remendado.
Considerações finais
O drama dos moradores do Seridó reflete um paradoxo da modernidade: o avanço tecnológico sem justiça ambiental. A energia eólica é parte essencial de um futuro sustentável, mas sua implementação precisa ser socialmente responsável, transparente e equitativa. O Brasil está diante de uma escolha crucial: seguir promovendo o “progresso” às custas das populações mais vulneráveis, ou construir um modelo de transição energética verdadeiramente justa — onde o vento que move hélices também respeite vidas.